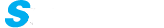-
FILIAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
-
PESQUISAS E ÍNDICES
-
PROJETOS
-
JURÍDICO
-
BANCO DE CURRÍCULOS REFERENCIADO
-
EVENTOS
-
DOWNLOADS
-
LINKS
Terça-feira
CLIPPING (17.09.2019)
VALOR
Brasil pode ser ‘oásis’ para o capital, diz Alcalay
Eduardo Alcalay, presidente do Bank of America Merrill Lynch no Brasil, tem motivos para estar otimista. Com forte atividade de mercado de capitais este ano e um cenário de venda de ativos estatais pela frente, pode ser um ano de resultados relevantes para o banco, que vem liderando a assessoria financeira dessas operações. Mas não é só isso.
Para Alcalay, o juro real baixo no Brasil e os juros zero ou negativos no mundo devem mudar totalmente a dinâmica do capital — e o Brasil sair privilegiado desse processo. “A poupança local está órfã do CDI gorducho”, diz Alcalay. “Com vontade política, a agenda de infraestrutura pode finalmente começar a deslanchar, como aconteceu com a reforma da Previdência e tem acontecido com as privatizações.” A seguir, os principais trechos da entrevista.
Valor: O desempenho econômico está muito diferente do que o banco tinha projetado?
Eduardo Alcalay: Sim. O crescimento econômico foi a grande decepção [no ano]. Quando o mercado vislumbrou o governo Bolsonaro, com agenda forte de reformas e retomada de confiança dos agentes econômicos, falava-se em crescimento de 3% ou acima disso. E isso não veio. As condições externas foram ruins, não só o cenário macro global piorou de lá para cá, como também o macro regional. Não dependemos da Argentina, mas ela responde por um terço das exportações brasileiras. Além disso, tem a questão local, de acomodação do estilo de governar e das relações com a Câmara. Esse conjunto acabou um pouco com aquela lua de mel da eleição. Nosso número hoje é de 0,7% de crescimento do PIB para este ano e de 1,9% para 2020.
Valor: Então a perspectiva é de melhora?
Alcalay: O crescimento doméstico é a grande oportunidade que temos e deve ser o foco do governo a partir de agora. O CDI em 6% e caindo para 5% ou menos transforma um país, a maneira como as pessoas poupam e a alimentação do setor produtivo, que começa a lidar com uma taxa de juro real jamais vista. O setor imobiliário começa a mostrar aquecimento das atividades, mais induzido pela demanda de investidores. O endividamento das famílias também começa a aumentar. Mas precisa haver consumo e investimentos.
Valor: Quais investimentos?
Alcalay: A agenda de privatizações por si só não gera crescimento, mas tende a aumentar investimento por parte das empresas que passarão a ser saneadas. Tem outra perspectiva que pouca gente olha. Estávamos outro dia com um governador que precisa privatizar a estatal de energia, que já não investe mais no seu negócio e inibe investimentos privados no Estado. Uma empresa quer abrir uma nova fábrica ou duplicar a existente, mas a estatal de energia não consegue garantir fornecimento com uma nova linha de transmissão ou uma subestação. Além disso, tem a agenda de infraestrutura, da qual se fala há décadas e que pode finalmente deslanchar.
Valor: Por que deslancharia?
Alcalay: As diferenças são os juros baixos e a vontade política. Também falamos há décadas da reforma da Previdência e de privatizações, mas agora estão acontecendo. Com as finanças arrumadas, o país inspira confiança e atrai poupança externa. Ao mesmo tempo, temos uma poupança interna colossal que vai buscar novos projetos para ter rendimentos melhores.
Valor: Mas os estrangeiros têm demonstrado apetite reduzido.
Alcalay: Nas ofertas de ações, os estrangeiros estão bastante ativos. Pelo cenário macro global, muitos estão preocupados com a preservação de capital, mas não estão fechados para o país e podem aumentar interesse à medida que o cenário entre Estados Unidos e China e sobre o Brexit fique mais claro e eles comecem a vir com mais força. E pela primeira vez temos a poupança doméstica começando a se movimentar. Temos R$ 9 trilhões de poupança financeira doméstica e dois terços disso empoçado em dívida pública, que até recentemente pagava 14% ao ano. Os brasileiros ficaram viciados e acomodados nesse negócio, e agora essa poupança fica órfã do CDI gorducho.
Valor: Qual a estimativa de migração da poupança doméstica?
Alcalay: No nosso cálculo, a estimativa era que entre R$ 400 bilhões e R$ 500 bilhões poderiam migrar da renda fixa para a renda variável. Em 2008, 20% do dinheiro da indústria local de fundos era alocado em bolsa, com um juro real entre 5% e 7%. Hoje, essa participação é de 10%, no Brasil de juro real de 2,5%. Este ano, o aporte semanal médio tem sido de R$ 1,5 bilhão em fundos de ações. Tem potencial para voltar a 20% de novo, pensando num cenário de quatro anos. A mesma dinâmica achamos que pode ocorrer com capital estrangeiro. O Brasil já respondeu por 16% do capital externo alocado em emergentes e hoje está em 7%. Se retomar ao mesmo patamar, são outros R$ 500 bilhões. Temos aí um número que o ministro Guedes gosta, de R$ 1 trilhão. O mercado de debêntures também está galopando. Só 8% do crédito corporativo local são detidos por assets, o restante está encarteirado em bancos.
Valor: O banco projeta cenário de recessão global ou americana?
Alcalay: A economia real ainda vai bem nos EUA e os indicadores das empresas são bons em termos de evolução de receitas e fluxo de caixa. O alerta que está piscando lá é que os índices de confiança do empresariado e dos gestores de compras foram impactados pelo aquecimento da guerra comercial e de alguns dados de exportação. Se houver, acredito que será o que os americanos chamam de “shallow recession”, uma recessão rasa, uma desaceleração calma. A grande novidade é esse mundo de juro zero que nunca se viu nessa dimensão e os agentes tentando entender impactos disso.
Valor: Qual a consequência para o Brasil?
Alcalay: Um mercado que pode oferecer crescimento e segurança ao capital como o Brasil pode ser um oásis nesse mundo meio parando. Sem querer ser Poliana ou lunático, de achar que o mundo todo está ruim e isso é bom para gente, mas relativamente falando o Brasil tem posição privilegiada. A Argentina está uma lástima, o México já está tecnicamente em recessão e até o Chile está sofrendo impacto de redução de compras da China. O Brasil é o quarto maior em investimento estrangeiro direto, atrás de Estados Unidos, China e Hong Kong. Foram quase US$ 65 bilhões no ano passado e, até agosto deste ano, US$ 43 bilhões, e isso num país que a gente está falando que não tem crescimento.
Valor: Os ruídos de governo, como as declarações polêmicas, afastam os investidores?
Alcalay: Esse governo foi eleito democraticamente com uma grande bandeira antiestablishment. É natural que haja, não diria, ruído, mas uma acomodação na maneira de se comunicar e de governar de Bolsonaro. Há discordâncias aqui e ali, mas vamos dar um passo atrás e olhar o macro: tivemos a reforma da Previdência, impopular mas fundamental para a estabilidade do país no longo prazo, em menos de oito meses de governo.
Valor: Então não atrapalha?
Alcalay: Existe um certo nível de apreensão, de alerta ao que isso causa, mas o que os agentes econômicos estão focados, seja local ou internacional, empresários ou investidores, é no resultado. A agenda liberal, de busca de estabilidade sustentável, está avançando e aí o crescimento — que é o que todo mundo ainda está procurando — terá as condições para aparecer um pouco mais adiante. A reforma da Previdência começa a colocar a questão fiscal no eixo, temos segurança jurídica e institucional e, dado o perfil sócioeconômico do país, há atuação na redução das desigualdades sociais, com programas que já existem.
Disparada do petróleo agita mercados em semana de decisão de Fed e Copom
Em uma semana de importantes decisões de política monetária pelos BCs de Estados Unidos e Brasil, mais um fator de risco entrou no radar. O ataque contra a maior instalação de processamento de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, deixa claro que o imponderável está à espreita. A ofensiva só aumenta a lista de ameaças que as autoridades monetárias terão de levar em consideração em seus esforços para salvar uma economia global já fragilizada pela disputa comercial entre Washington e Pequim.
No mercado financeiro, a piora do quadro geopolítico exigiu uma análise detalhada dos investidores para avaliar se o evento aumenta o risco de recessão e o potencial ganho de alguns ativos num ambiente de petróleo em alta. Nesse cenário, a perda das bolsas globais nesta segunda foi relativamente contida, justamente por causa do peso e da liquidez das ações ligadas ao petróleo, que acompanharam a firme valorização da commodity.
Os contratos futuros para novembro do Brent, referência global da commodity, fecharam o dia em alta de 14,6%, a US$ 69,02 o barril, na ICE, em Londres. Os preços da referência americana, o WTI, subiram 14,67% — a maior alta diária em mais de uma década — e terminaram a sessão a US$ 62,90 o barril na Bolsa de Mercadorias de Nova York. “Os bancos centrais provavelmente examinarão os impactos inflacionários dos preços mais altos do petróleo, mas o risco geopolítico, adicionado a um cenário de crescimento econômico já frágil, deve ser considerado”, afirmou Kerry Craig, estrategista global do J.P. Morgan, à “Dow Jones Newswires”.
Em Wall Street, o setor de energia se destacou na ponta positiva do S&P 500, com alta de 3,29%. Por outro lado, as ações das companhias aéreas estiveram entre as mais prejudicadas. A United Airlines, listada na Nasdaq, caiu 2,84%, enquanto a American Airlines perdeu 7,28%. As ações de Delta Airlines, por sua vez, recuaram 1,57%. Neste equilíbrio fino, o índice S&P 500 fechou em queda de 0,31%, aos 2.997,96 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,28%, aos 8.153,54 pontos.
Já o Dow Jones interrompeu uma sequência de oito altas e perdeu 0,52%, aos 27.076,82 pontos. Essa divisão também ficou clara no mercado de moedas. Os países exportadores de petróleo, como a Rússia, a Noruega e o Canadá, viram suas divisas se fortalecerem ante o dólar. Por aqui, entretanto, a cotação ficou praticamente no zero a zero, aos R$ 4,0892, alta de apenas 0,05%. Na bolsa brasileira, o avanço das ações da Petrobras — a PN subiu 4,39%, e a ON, 4,52% — equilibrou a pressão dos bancos e da Vale sobre o Ibovespa. O índice terminou o dia com leve alta de 0,17%, aos 103.680 pontos.
O giro financeiro foi intenso e somou R$ 16,3 bilhões. O efeito nos preços do petróleo pode ser diluído e normalizado com o tempo, mas o ataque na Arábia Saudita acabou gerando um prêmio de risco de difícil auferição, por causa do “severo risco geopolítico” na cadeia petrolífera, afirma o analista Pavel Molchanov, do banco americano Raymond James. “Esse foi, de longe, o golpe mais forte contra a infraestrutura petrolífera saudita da história moderna e seria inteiramente lógico para quem está por trás do ataque tentar repeti-lo no futuro.”
No sábado, dez drones atacaram a maior instalação de processamento de petróleo do mundo em Abqaiq e o segundo maior campo de petróleo do reinado, em Khurais. O fato deve provocar uma redução de cerca de 6% na produção global da commodity e de 5,7 milhões de barris por dia — mais da metade da produção diária de 9,8 milhões do reino saudita. O grupo rebelde Houthi, do Iêmen, assumiu a responsabilidade pelos ataques.
No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, e a Arábia Saudita acusaram o Irã de envolvimento com o ataque. O secretário de Defesa americano, Mark Esper, considerou os ataques “sem precedentes” em publicação no Twitter. “As forças armadas dos EUA, nossa equipe de agências, estão trabalhando com nossos parceiros para endereçar este ataque sem precedentes e defender a ordem e legislação internacionais, que estão sendo minadas pelo Irã”.
“Em geral, os preços do petróleo subindo até US$ 80 a US$ 90 por barril têm desempenho líquido favorável para o crescimento global, mas se tornam negativos para a expansão quando vão além desses níveis”, dizem os analistas Abhishek Deshpande e Shakil Begg, do J.P.Morgan. Logo, a depender da escalada dos preços do petróleo, o risco de uma recessão global só tende a aumentar. Esta é a avaliação da consultoria S&P Global Platts, que alerta condiciona a ameaça para a economia mundial a um avanço muito expressivo dos preços do petróleo, mas pondera que este não é o seu cenário-base.
É nesse contexto que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) começa nesta terça sua reunião de política monetária. Na quarta-feira, o Fed anunciará sua decisão, sob ampla expectativa de corte de 0,25 ponto percentual. No entanto, a chance de manutenção da taxa básica, atualmente no intervalo de 2% a 2,25%, tem aumentado aos poucos nos últimos dias. Por aqui, a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC será conhecida, também, nesta quarta.
Além do petróleo como protagonista, os temores relativos à perda de fôlego da economia mundial também foram sustentados pela China, cuja a indústria produziu menos do que o esperado em agosto, ao mesmo tempo em que as vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos também decepcionaram os mercados.
“Essa é a dinâmica que está sendo avaliada pelo mercado”, afirmou Matheus Gallina, da Quantitas, sobre o cenário externo e o movimento das taxas dos juros futuros nesta segunda. Para ele, o comportamento do petróleo “poderia até ser outro fator a ajudar o cenário de juros mais baixos”. Na B3, a taxa do DI para janeiro de 2020 caiu de 5,27% de sexta-feira para 5,22%.
FOLHA
Bernard Appy propõe cortar tributo de salário mais alto e mais baixo
Desonerar a folha de salários passa pelos extremos do mercado de trabalho —os trabalhadores de menor e de maior renda—, segundo o economista Bernard Appy.
Coautor da reforma tributária que tramita na Câmara (PEC 45) e propõe a unificação dos tributos sobre consumo, ele trabalha agora numa proposta para financiar a Previdência e ao mesmo tempo baratear contratações.
Desde 2016, Appy sugere desonerar a folha para eliminar distorções e incentivar o trabalho formal. Suas ideias ganharam força na semana passada, depois que a opção do Ministério da Economia —uma nova CPMF— foi descartada.
Em termos gerais, a proposta de Appy é não cobrar contribuição previdenciária de valores equivalentes ao salário mínimo nem da parcela que exceder o teto do INSS (R$ 5.839,45 em 2019).
Além disso, seriam retiradas da folha de salários os “penduricalhos”: contribuições não previdenciárias (como as destinadas ao Sistema S e ao salário-educação).
Ao baixar o custo da contratação para as empresas, a mudança incentivaria a formalização; mais carteiras assinadas elevariam a arrecadação —mas não o suficiente.
Outras fontes de financiamento para a Previdência ainda estão em estudo, mas o economista diz ver espaço para mudanças no Imposto de Renda de pessoas físicas, pessoas jurídicas e sobre aplicações financeiras. “A avaliação dos custos e benefícios virá da discussão política”, afirma.
Nesta segunda-feira (16), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um dos patrocinadores da PEC 45, defendeu o corte de benefícios fiscais como forma de aumentar a arrecadação para compensar parte da desoneração da folha de salários.
Na ponta de baixo dos salários, Appy propõe não cobrar contribuição previdenciária da parcela equivalente ao salário mínimo; até esse valor, haveria cobrança para benefícios de risco, como auxílio-doença e pensão por morte.
A contribuição previdenciária seria cobrada sobre valores entre o salário mínimo e o teto do INSS. Quanto maior a remuneração, maior a alíquota final.
Valores e alíquotas ainda estão sendo detalhados, mas o economista exemplifica: sobre um salário de R$ 1.000, seriam cobrados 10% para financiar os benefícios de risco; sobre o que exceder esse valor, os mesmos 10% mais 20% para financiar a aposentadoria.
“Hoje, o alto custo desincentiva a formalização do trabalhador de baixa renda. A desoneração inverteria essa tendência”.
Na outra ponta, a da alta renda, o desincentivo à contratação vem do fato de que o empregador contribui sobre todo o valor do salário, mesmo o que excede o teto do INSS.
A proposta de Appy neste caso é limitar ao teto a base de cálculo da tributação, o que traria incentivo parcial à formalização de trabalhadores mais qualificados.
Para reverter a tendência à pejotização, diz ele, seria ainda preciso alterar o Imposto de Renda, para que o custo de trabalhar como contratado ou como empresa fosse o mesmo.
No terceiro ponto da proposta, o economista propõe que contribuições não previdenciárias, como as destinadas ao Sistema S e ao salário educação, passem a ser financiadas por outras fontes.
Será preciso também detalhar uma fase de transição. “Algum gradualismo é necessário, para garantir que não há riscos fiscais”, diz.
O impacto anual da desoneração, na estimativa feita em 2016, seria de cerca de R$ 160 bilhões (R$ 80 bilhões na baixa renda, R$ 40 bilhões na alta renda e R$ 38 bilhões com a exclusão dos penduricalhos).
Atualizada pela inflação, a conta ficaria em torno de R$ 180 bilhões por ano.
A proposta completa de Appy previa que toda contribuição tivesse relação direta com um benefício previdenciário.
Seria criada uma renda básica para todos os brasileiros acima de 65 anos e não haveria tempo mínimo de contribuição: cada período adicional de contribuição permitiria um ganho na aposentadoria.
Não há, porém, espaço político agora: “No atual momento da discussão da reforma da Previdência, não vejo a menor condição”.
O economista afirma que, mesmo sem essas modificações, porém, as desonerações propostas já racionalizam a tributação sobre a folha.
Hoje, uma empresa brasileira típica recolhe em contribuições até 31,8% do salário total (veja quadro). O trabalhador paga até 11% da parcela que vai até o teto do INSS.
É uma carga elevada em relação a padrões internacionais: na OCDE (grupo de países ricos), ela é na média de 22,9% nos 12 países que financiam benefícios como pensão e auxílio doença, além de aposentadoria, e 18% para os 22 países nos quais se considera apenas o financiamento da aposentadoria.
A desoneração da folha tem sido cobrada principalmente pelo setor de serviços, como forma de compensar parte do aumento de tributação esperado com a PEC 45, que unifica os tributos sobre o consumo e estabelece a mesma alíquota para todos os setores.
É também um dos três pilares da proposta de reforma tributária em estudo no Ministério da Economia, que prevê ainda uma reforma do Imposto de Renda e a adoção de um tributo único federal sobre bens e serviços.
Para o ministro Paulo Guedes, a desoneração contribuirá para reduzir o desemprego.
ESTADÃO
Governo quer tirar da Constituição reajuste do salário mínimo pela inflação; economia é de R$ 37 bi
A equipe econômica estuda retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação. O congelamento poderia render uma economia entre R$ 35 bilhões e R$ 37 bilhões, segundo fontes da equipe econômica ouvidas pelo Estadão/Broadcast.
A ideia é que, em momentos de grave desequilíbrio fiscal, como o atual, haja condições de congelar mesmo os aumentos nominais (ou seja, dar a variação da inflação) da remuneração por alguns anos, até que a saúde das contas seja endereçada.
Oficialmente, porém, a proposta de orçamento para o ano de 2020 prevê aumento do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.039 a partir de janeiro do ano que vem, levando em conta a variação da inflação. Há quem defenda, no entanto, não dar nem mesmo a inflação como reposição salarial para abrir espaço no Orçamento para despesas de custeio da máquina pública e investimentos.
Como o Estado mostrou, o Orçamento de 2020 pode começar com um alívio de R$ 202,6 bilhões entre redução de despesas, aumento de receitas e diminuição da dívida pública, caso o Congresso Nacional aprove uma proposta que aciona mais rapidamente medidas de contenção dos gastos já previstos na Constituição e cria novos freios para as contas.
A ideia tem sido costurada com os deputados Pedro Paulo (DEM-RJ) e Felipe Rigoni (PSB-ES), respectivamente autor e relator de uma proposta que regulamenta a regra de ouro e tenta limitar o crescimento dos gastos obrigatórios. "Podemos apresentar uma proposta que preveja, por exemplo, não ter o reajuste por um ou dois anos em momentos de dificuldades fiscais. E isso abriria espaço para que outros benefícios também não sejam corrigidos", disse uma fonte do governo.
Hoje, a Constituição prevê que é direito social do cidadão ter acesso a um salário mínimo "com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo". Assim, o governo se vê obrigado a, todos os anos, recompor ao menos a inflação. Até o ano passado, a política de reajuste fixava uma correção pelo Índice de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior mais o Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Com o vencimento desse modelo, o governo se debruça sobre uma mudança.
A política de aumentos reais (acima da inflação) vinha sendo implementada nos últimos anos, após ser proposta pela então presidente Dilma Rousseff e aprovada pelo Congresso.
Os reajustes pela inflação e variação do PIB vigoraram de 2011 a 2019, mas nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação.
Em 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação porque o PIB dos anos anteriores (2015 e 2016) teve retração. Por isso, para cumprir a fórmula proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento.
Segundo o próprio Ministério da Economia, cada R$ 1 a mais de aumento no salário mínimo gera um gasto adicional de R$ 302 milhões ao governo. Isso porque uma série de benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada (BPC) e o abono salarial, é indexada ao salário mínimo e tem, por isso, um aumento proporcional.
Com as contas apertadas, o governo quer encontrar formas de enxugar as despesas obrigatórias para abrir espaço no Orçamento e no teto de gastos. A percepção interna é de que já não há muito espaço para cortes no gasto discricionário. Além disso, há um entendimento de que será muito difícil manter a máquina pública funcionando devidamente no formato previsto no Orçamento, com discricionárias (custeio da máquina pública e investimentos) fixadas em R$ 89,161 bilhões. A contenção do aumento do salário mínimo, com consequente efeito sobre o avanço do gasto com benefícios sociais, é uma das principais apostas do governo para diminuir o peso da despesa obrigatória.
Mercado projeta corte de 0,50 ponto porcentual na taxa de juros esta semana
Economistas do mercado financeiro projetam corte de 0,50 ponto porcentual da Selic, a taxa básica de juros, no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na próxima quarta-feira, 18. A projeção consta do relatório Focus divulgado pelo BC nesta segunda, 16.
Com isso, a taxa atingiria novo piso histórico, de 5,50% ao ano. Depois, de acordo com as estimativas, haveria novo corte, também de 0,50 ponto porcentual, em outubro, para 5,00%. A previsão para a Selic no fim de 2019 foi mantida em 5% ao ano e, para 2020, passou de 5,25% para 5%.
No fim de julho, o Copom anunciou o corte da Selic de 6,50% para 6,00% ao ano. Foi a primeira queda após 16 encontros em que o colegiado manteve a taxa básica estável. Ao justificar a decisão, o BC reconheceu uma evolução no cenário básico e no balanço de riscos para a inflação. Além disso, sinalizou que deveriam ocorrer cortes adicionais da taxa.
Inflação
As projeções mais recentes do BC, considerando o cenário de mercado, apontam para inflação de 3,6% em 2019 e 3,9% em 2020 - dentro das metas estabelecidas para esses anos. As projeções para o IPCA, o índice oficial de preços, em 2019 e 2020 foram alteradas. Para este ano, passou de alta de 3,54% para 3,45% e, para 2020, foi de 3,82% para 3,80%.
Esses números estão abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,75% a 5,75%). Para 2020, a meta é de 4%, com margem de 1,5 ponto (de 2,50% a 5,50%). As estimativas mais recentes do BC, considerando o cenário de mercado, apontam para inflação de 3,6% em 2019 e 3,9% em 2020.
No último dia 6, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o IPCA avançou 0,11% em agosto, com taxa acumulada de 2,54% no ano e de 3,43% em 12 meses.
NOSSA MISSÃO
Representar e promover o desenvolvimento da construção civil do Rio Grande do Norte com sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental
POLÍTICA DA QUALIDADE
O SINDUSCON/RN tem o compromisso com a satisfação do cliente - a comunidade da construção civil do Rio Grande do Norte - representada por seus associados - priorizando a transparência na sua relação com a sociedade, atendimento aos requisitos, a responsabilidade socioeconômica, a preservação do meio ambiente e a melhoria contínua.