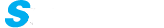-
FILIAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
-
PESQUISAS E ÍNDICES
-
PROJETOS
-
JURÍDICO
-
BANCO DE CURRÍCULOS REFERENCIADO
-
EVENTOS
-
DOWNLOADS
-
LINKS
Segunda-feira
VALOR
Banco público cobra mais de empresas
Em meio à crise do coronavírus e à dificuldade de acesso que as empresas estão tendo ao crédito, os bancos públicos não estão facilitando em termos de taxas de juros. De acordo com dados do Banco Central (BC), Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica mostram-se pouco competitivos nos juros cobrados nas operações de crédito para pessoa jurídica.
O ranking de juros divulgado pela autoridade é atualizado diariamente em sua página, sempre com uma média móvel de cinco dias úteis. O Valor tem acompanhado esses dados nas últimas semanas e raras são as linhas em que os bancos federais aparecem com juros mais baixos. No levantamento mais recente (30 de abril a 7 de maio), das 11 linhas referenciadas em reais para pessoa jurídica, as estatais só apareceram entre as cinco menores taxas em duas: antecipação de fatura de cartão de crédito, com o BB em 5º lugar (0,8% ao mês); e capital de giro pós-fixado com prazo de até um ano, com a Caixa também em 5º lugar (0,46%).
Nas demais modalidades, as posições no ranking de juros variavam, mas sempre em níveis pouco competitivos. O pior lugar foi ocupado pela Caixa Econômica Federal na linha de capital de giro pré-fixada e prazo de até um ano: 31ª posição e juro médio de 1,83% ao mês. Nessa linha, o BB ficou em 24º, com juros de 1,32%.
Para se ter uma ideia, os três maiores bancos privados – Itaú, Bradesco e Santander - operavam nessa linha com juros em torno de 0,9% ao mês, ocupando as 12ª, 13ª e 14ª posições, respectivamente. Outra posição bem ruim é na de desconto de duplicatas, em que o BB aparece em 19º e a Caixa, em 22º lugar.
Nos últimos dois meses, o desempenho não muda muito, à exceção da linha de antecipação de cartão de crédito no qual o BB apareceu em primeiro lugar, com os juros mais baixos entre 30 de março e 3 de abril. Afora esse caso, as instituições federais estão sempre oscilando nas posições intermediárias, muitas vezes fora das dez menores taxas. Para o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, as taxas de juros cobradas pelos bancos públicos evidencia uma postura defensiva, dentro de uma lógica privada.
“Não estou dizendo que estão errados. Outros bancos estão fazendo”, disse Ellery, comentando que em geral empresas públicas não trabalham com preços melhores, exceto quando há interferência política. O economista aponta que de forma geral o crédito está devagar e os programas do governo para fomentar esse instrumento estão mal desenhados. “Falta ousadia”, comentou.
De corte liberal e contrário à existência dos bancos públicos, Ellery avalia que a especificidade e profundidade desse crise justificaria o uso dessas instituições na liderança do processo de oferta de crédito. “Normalmente eles não têm que liderar. Mas dado o momento tão atípico com essa pandemia, acho que uma coisa é ruim, mas às vezes você tem que usar. E o que o Brasil tem agora para usar é esses bancos”, disse. “Mais importante que reduzir juros, eles deveriam facilitar o acesso ao crédito.
O vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, vai em direção semelhante e diz que os bancos públicos deveriam ser mais agressivos tanto em termos de taxas como nas exigências de crédito, diminuindo exigências de garantias, dando prazo de carências maiores, entre outras. “É preciso uma flexibilização de exigências de garantias”, disse, lembrando que as empresas estão com receitas menores e dívida maiores, que afetam os limites de crédito.
Ele levou essa cobrança recentemente ao governo Bolsonaro. “Os bancos públicos estão trabalhando como se fossem bancos privados, de mercado, como se não tivessem responsabilidades”, disse Roriz. “Os privados estão com mais apetite que os públicos”, acrescentou. Citando o exemplo dos Estados Unidos, onde o governo está atuando mais fortemente na oferta de recursos para as empresas, o representante industrial aponta que está faltando agressividade no esforço para resolver a situação.
Para ele, falta percepção sobre o risco que as cadeias produtivas estão correndo por conta da falta de recursos. “Ou os bancos públicos entram forte ou vai ter colapso nas cadeias produtivas”, disse, explicando que as empresas grandes estão conseguindo crédito e atravessar esse período, mas as médias estão com enorme dificuldade e compõem toda estrutura de fornecimento dessas maiores.
Para o economista e sócio-diretor da InterB Consultoria, Cláudio Frischtak, a posição dos bancos públicos no ranking de juros não necessariamente significa uma menor disposição de emprestar. Ele explica que a relação dos bancos com os clientes tem uma dimensão mais ampla, que pode envolver carências maiores, diferentes exigências de garantias, produtos mais atraentes, entre outras. “É muito difícil de ver a relação do cliente com o banco”, disse.
Para ele, a crise atual não justifica retomar a prática da presidência de Dilma Rousseff, de usar bancos públicos para forçar redução dos juros dos demais bancos comerciais, que, para ele, não deu certo. “O fato de os bancos não serem mais competitivos em termos de taxas pode significar que eles não estão sendo pressionados”, disse.
“A experiência na época da Dilma de forçar redução de juros foi um desastre. Esse tipo de interferência de usar bancos como ponta de lança, além de não funcionar bem, é péssima sinalização de governança dos bancos”, disse comentando que recentemente a interferência do governo no marketing do Banco do Brasil foi um sinal negativo.
Frischtak aponta que o processo de redução dos juros bancários nos últimos anos tem sido conduzido pelo Banco Central, por meio de instrumentos monetários e regulatórios, como estímulos à competição por meio de Fintechs e informação, como o cadastro positivo. “As taxas de juros elevadas são problema há muitos anos, concentração é fator relevante, insegurança jurídica.
O BC está tentando atuar há alguns anos, tem trabalho bem feito. O efeito pode estar sendo lento, mas se for cortar caminho, a emenda pode ser pior do que o soneto”, disse. Procurado, o BB disse que os fundamentos do mercado e a concorrência são avaliados permanentemente nas decisões de preços. “O Banco define suas taxas de juros a partir de critérios técnicos e segundo as melhores práticas de mercado”, afirmou.
A Caixa informou que vem reduzindo suas taxas ofertadas aos clientes nos últimos meses, como cheque especial, capital de giro e outras. E que, nos últimos 12 meses, apresentou a maior redução em suas taxas de juros para PJ como capital de giro acima de 365 dias e cheque especial.
O BNB respondeu que direciona seus esforços em atender as necessidades de longo prazo e atua também com linhas de crédito comercial. “Em ambas as atuações, enquanto banco de desenvolvimento, buscamos disponibilizar linhas com taxas de juros o mais competitivas possíveis”, diz o banco, apontando ainda questão metodológica, que faz o ranking variar ao longo do tempo. “A publicação do BC não traz todos os produtos ou fontes de recursos”, completa.
BC poderá vir a ter que emitir moeda para manter tripé macro, diz Aloisio Araújo
O Banco Central poderá vir a ter que emitir moeda temporariamente para perseguir as metas de inflação. A opinião é do economista e matemático Aloisio Araújo, um estudioso das relações entre as políticas monetária e fiscal que chegou a propor metas de inflação mais altas para o Brasil devido à frágil situação de nossas contas públicas.
Araújo, porém, rejeita a impressão de dinheiro como uma solução heterodoxa de financiamento dos gastos do governo para o combate à pandemia, nos moldes do que é defendido pelos partidários da chamada Teoria Monetária Moderna (MMT, na sigla em inglês). “Não vejo nenhuma base teórica”, afirma.
Para ele, a impressão de dinheiro pode ser uma solução justamente para preservar a ortodoxia. “O principal objetivo tem que ser a perseguição da meta de inflação; o tripé básico tem funcionado na economia brasileira, com teto de gastos, juntamente com o câmbio flutuante.”
Ele acha pouco provável, porém, que o Brasil vá de fato ser obrigado a emitir moeda, o que pressupõe antes alguma dificuldade em vender títulos públicos. Mas diz que essa é uma opção em aberto e que, antes, o instrumento a ser usado é a taxa Selic. Para Araújo, os cortes de juros feitos e o sinalizado pelo BC estão corretos, e a autoridade monetária não deveria se preocupar com eventuais repercussões negativas na curva de juros ou no dólar. Essas variáveis, argumenta, “não estão nos modelos do sistema de metas” e “devem ser secundárias na política de juros”.
Um especialista na Lei de Falências, o economista vê com preocupação iniciativas no Congresso para suspender pagamentos de empréstimos consignados ou impor teto de juros. “Essa unilateralidade destrói o mercado de crédito, que teve um avanço grande nos últimos 15 anos”, diz. Para ele, a agenda deve ampliar a negociação extrajudicial coordenada de credores, seguindo os passos recentes de países como a Espanha.
A seguir, os principais trechos da entrevista com Araújo, que é assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
Valor: Os cortes de juros feitos e o sinalizado pelo Banco Central são apropriados? Aloisio
Araújo: Achei muito bom. Vínhamos com uma inflação baixa em relação ao centro da meta e, com esse choque recente, tivemos um grande efeito deflacionista. O correto é perseguir a meta de inflação e, para isso, o instrumento básico são os juros.
Valor: A decisão foi criticada porque elevou a inclinação da curva de juros e alimentou a alta do dólar.
Araújo: Dentro do tripé de política macroeconômica, o câmbio é flutuante. Se houver uma alta do dólar, paciência. Acho que o Banco Central faz bem por não permitir volatilidade excessiva do câmbio. Para isso temos uma quantidade boa de reservas, que custaram caro, e outros instrumentos, como swaps ou operações compromissadas com reservas. O BC está certo em fazer com moderação. Do ponto de vista da meta de inflação, a desvalorização cambial nem é tão ruim porque o ‘pass-through’ caiu muito.
Valor: Mas o estímulo será eficaz, já que resultou em aperto nas condições financeiras?
Araújo: A inclinação da curva de juros pode aumentar ou diminuir devido a outros fatores, como o risco político. Não está nos modelos do sistema de metas, tradicionalmente, esse componente. Deve ser secundário na política de juros. Foi o que outros países fizeram, diminuíram os juros. A nossa desvalorização cambial foi maior, nosso risco-país cresceu mais que outros emergentes. Mas também houve outras condições comuns a outros países. Difícil saber o culpado, temos poucos modelos para investigar isso. O instrumento de juros tem que ser utilizado.
Valor: Existe um limite para a baixa de juros?
Araújo: Tipicamente, sim, você tem um limite para a taxa de juros cair. O juro neutro é o prêmio de risco mais a taxa de preferência intertemporal. Como há uma convergência entre os países, essa taxa intertemporal é mais ou menos única, em torno de zero. Mas temos que adicionar o prêmio de risco do país. Nos sistemas internacionais, se for abaixo disso, haverá inflação. Em algum ponto, haverá a impossibilidade de vender títulos. Se não consegue vender o título, emite temporariamente moeda.
Valor: Nessa crise, o Brasil precisará levar os juros a zero? Araújo: Eu duvido que a gente chegue lá. Valor: Por quê?
Araújo: Antes de tudo, porque você tem demanda por título; porque, no mundo, onde tem algum rendimento, é mais atrativo. No exterior, a inflação está zero, aqui não. Então você vai ter algum título com rendimento futuro. Mas são especulações, a gente não sabe o que vai acontecer com o juro ao certo. Se for o caso de ocorrer essa queda toda, você emite moeda nessa situação. Não é emitir moeda ‘per se’. Sou totalmente contra. O principal objetivo tem que ser a perseguição da meta de inflação; o tripé básico tem funcionado na economia brasileira, com teto de gastos, juntamente com o câmbio flutuante.
Valor: Será que podemos aplicar esse remédio no Brasil, com todo o histórico de inflação muito alta?
Araújo: Qualquer indicação de que a inflação está subindo, você volta a subir os juros. Nada impede de voltar a subir os juros. Suponha que o mundo agora, de repente, descubra uma vacina. Imagina uma recuperação em ‘V’ no Brasil e no mundo. É óbvio que o Brasil vai ter que subir a taxa de juros. Mas agora estamos abaixo do limite inferior da meta de inflação. Até chegar no centro da meta, ou acima dele, tem muito tempo. Essas reações não são instantâneas. Você tem tempo de subir o juro, o BC pode fazer uma reunião extraordinária.
Valor: A impressão de moeda pelo Banco Central não seria uma forma perigosa de financiar os gastos do governo?
Araújo: Não estou preconizando isso como objetivo. É uma situação diferente, tem que ser conversado com o Tesouro. Seria uma situação anômala. Qual seria a alternativa que você teria? Nós nunca vamos emitir moeda. Mas aí você abandona o sistema de metas? Abandonar o sistema de metas seria muito ruim.
Valor: O que o sr. está defendendo é diferente das sugestões dos proponentes da Teoria Monetária Moderna?
Araújo: Sim, é bem diferente. Não estou falando em emitir dinheiro para reativar a economia. Não tem a ver com essa ideia que agora vivemos num mundo diferente, como se diz na MMT.
Valor: Por que não seria conveniente imprimir dinheiro nos moldes da MMT?
Araújo: Não vejo nenhuma base teórica nela. Os macroeconomistas tradicionais que a gente lê, que são os líderes, teóricos, não vejo ninguém falando nisso. Vejo gente no Congresso americano, uma defesa muito periférica dessa teoria. O que houve internacionalmente foi uma queda muito grande dos juros estruturais e na relação entre a dívida e o PIB, impensáveis anteriormente. É realmente uma situação muito nova, que dá a impressão de que não existe mais restrição orçamentária do governo. Mas não vejo ninguém sério dizendo que não existe mais daqui para frente. Principalmente num país como o Brasil, com a fragilidade fiscal que temos.
Valor: O sr. sempre estudou as relações entre o sistema de meta e a situação fiscal, defendendo inclusive uma meta de inflação mais alta do que a de países avançados. Hoje a ação do Banco Central tem alguma relevância para a sobrevivência do arcabouço fiscal?
Araújo: Sempre tem. Mas vejo sempre como primeiro objetivo da política monetária a meta de inflação. Se os juros sobem, é ruim do ponto de vista fiscal, mas tem que cumprir a meta de inflação porque o objetivo monetário é independente. Apenas existe uma interação entre os dois. Quando tem uma situação fiscal muito ruim, e você tenta subir os juros para cumprir os objetivos monetários, você corre o risco de não colher esses objetivos monetários. Existe uma desconfiança do mercado. Mas isso é a outra ponta, da dominância fiscal, não é o que estamos vivendo agora. Vivemos recentemente situações desse tipo, talvez a dominância, que é uma coisa muito difícil de definir, envolva expectativas. Estivemos perto. Nessa situação você não cumpre a meta, se colocar uma meta de inflação muito baixa. Corre o risco de ter um choque negativo e ficar nessa situação. Acho que a gente tem que fazer a nossa realidade monetária associada à realidade fiscal.
Valor: Hoje, com as projeções de inflação abaixo da meta, qual a implicação fiscal de o BC buscar o centro da meta?
Araújo: O objetivo do Banco Central é meta de inflação e ponto final, não quero colocar um outro objetivo para o Banco Central. Mas, evidentemente, tem consequências fiscais. Por um lado, aqueles que não querem reduzir os juros dizem que tem consequências negativas daqui e dali, na inclinação da curva de juros e no dólar. Por outro lado, [a queda de juros] tem outras consequências, positivas. De um lado e do outro, essas consequências devem ser secundárias. Coisas positivas: paga menos juros, a inflação maior acomoda um pouco o teto de gastos. O teto tem que ser preservado, não através desse mecanismo.
Valor: Como deve ser?
Araújo: O governo está certo em não dar os reajustes de salário do funcionalismo. Pense que você congele o salários dos funcionários públicos no Brasil, que dá uns 13% do PIB. No mundo desenvolvido é 9%, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O certo seria você diminuir esse gasto no Brasil. Tem que fazer uma reforma administrativa, houve algumas tentativas. Mas, com essa crise, suponha que você não dê nenhum aumento. A participação do salário do funcionalismo público no PIB vai aumentar, mesmo ficando congelado. Por quê? Porque o PIB vai cair. Se o PIB cai 6%, a inflação é 2%, o salário em relação ao PIB sobe 4%. Sobe mesmo congelado.
Valor: Existe a discussão de que o teto pode ficar inviável se a inflação ficar muito baixa.
Araújo: Por isso que é tão importante não fazer o reajuste do funcionalismo, tem outras reformas importantes a fazer. De fato, a situação fiscal está muito difícil. Mas as pessoas se esquecem de que, se não tivéssemos feito a emenda do teto e a reforma da Previdência, estaríamos bem piores. O que economizamos com essas reformas devolvemos agora, devido a uma crise. Acho um bom uso do ganho, não foi irresponsável. Para continuar responsável, temos que seguir. Quando a situação está muito confusa, devemos ficar no tripé. Deixa câmbio livre, deixa o sistema de meta e olha a lei do teto, faça o esforço que for necessário.
Valor: Seria o caso de o Banco Central vender mais dólares para segurar o câmbio?
Araújo: O Banco Central está usando alguns instrumentos, reservas, swaps, compromissadas, para segurar a volatilidade. Está certo. O Brasil está sofrendo um pouco porque em algumas dimensões está pior que outros países, embora em muitas dimensões esteja melhor. Agora, suponha que precise de um novo [nível] de câmbio, como precisou na década de 1980 e em outras ocasiões para ajudar o equilíbrio, via comércio exterior. Então você talvez precise de uma desvalorização cambial maior agora. Tem havido um aumento de exportações de commodities, deve vir alguma substituição de importações via mercado, não artificialmente induzida. Os preços relativos mudam. Importa menos, produz mais. São instrumentos de mercado funcionando. No momento, o BC está fazendo certo, diminuindo um pouco o movimento, mudanças bruscas prejudicam agentes econômicos que se posicionaram de um lado ou de outro. Agora, mexer no nível, acho complicado.
Valor: A crise vai aumentar muito a falência de empresas. Como lidar com essa situação?
Araújo: Há uma série de discussões no Congresso que são muito ruins porque tentam quebrar contratos. Um absurdo a discussão sobre suspender o pagamento das parcelas do empréstimo consignado. Os aposentados e funcionários públicos respondem por 95% de quem tem crédito consignado. Eles não tiveram os rendimentos afetados nessa crise. Então por que você vai suspender esse pagamento de empréstimo consignado? Não faz sentido. Não faz sentido fazer uma moratória de aluguel. Suspender os contratos de forma arbitrária não faz sentido. Tem que haver uma negociação. É preciso uma solução emergencial para facilitar a negociação. Vários países estão fazendo isso, a Espanha passou uma lei.
Valor: Como, então, facilitar as negociações?
Araújo: Abrir mais a negociação extrajudicial, mas com as partes juntas. Criar mecanismos para que os credores conversem entre si, de forma coordenada, no extrajudicial, e votem. Pode decidir estender por mais seis meses o pagamento, mas de forma comum, não pode fazer à revelia. Tem que ser feito uma negociação mais facilitada, mas sem passar por cima da propriedade dos credores, porque aí o sistema creditício poderá ser muito afetado. Tem um projeto de tabelar juro. Moratória geral de aluguel não tem sentido. Essa unilateralidade destrói o mercado de crédito, que teve um avanço grande nos últimos 15 anos. Avançou muito. Não tinha sistema de hipoteca, teve um empoderamento do credor, precisa de um balanço entre credor e devedor. No Brasil, há um viés muito forte na direção do devedor. Então havia a retração do credor e não tinha crédito nenhum.
Na crise, fundos imobiliários de logística e residenciais ganham apelo
Entender o rumo dos mercados após a pandemia é a pergunta do bilhão para grande parte dos setores. No caso do imobiliário, um dos mais impactados pelas transformações no comportamento de investidores e consumidores, saber separar as tendências das situações pontuais vai definir o sucesso das futuras apostas, ressaltam gestores ouvidos pelo Valor.
Sob a ótica dos fundos imobiliários, no curto e médio prazos, já é possível identificar vencedores e perdedores. Especialistas do setor veem algumas das estrelas do ano passado caírem por terra por conta das medidas de contenção da covid-19, caso de shopping e hotelaria.
O segmento de shoppings, por exemplo, que brilhava nos portfólios até o começo do ano diante da perspectiva de retomada da atividade econômica, perdeu as asas no período de isolamento forçado. Sem circulação de pessoas, os centros comerciais amargam queda repentina e profunda de receitas de locação e ainda enfrentam um processo de renegociação dos valores de aluguéis para evitar uma quebradeira generalizada de lojas. Mesmo após o fim da crise, os gestores se mostram cautelosos.
“No caso dos shoppings, a recuperação vai ser mais lenta porque tem muito lojista que não vai ter fôlego para bancar o aluguel e a vacância vai aumentar”, diz a diretora de fundos imobiliários da Rio Bravo, Anita Scal. Além de aumento de espaços vazios nos centros comerciais, os próprios consumidores tendem a visitar menos os locais. “A circulação nos shoppings deve se reduzir [após a pandemia] porque as pessoas vão ter um certo receio de frequentar”, diz o CEO da Habitat, Eduardo Malheiros.
Outro segmento muito atingido pela covid-19, os hotéis também sofrerão com recuperação lenta após o fim da crise de saúde. “Acho que um dos maiores perdedores da pandemia é o segmento de hotelaria”, diz o sócio e diretor de risco e relações com investidores da Hectare, André Catrocchio. “Não há muita certeza como vai funcionar a volta do turismo e a ocupação dos estabelecimentos é um ponto de interrogação.”
Já entre os vencedores, dois segmentos despontam como os mais promissores: logística e residencial. O primeiro vinha em uma tendência de crescimento impulsionado pelo comércio eletrônico. Na era do isolamento social, a demanda por compras pela internet se acelerou e trouxe a reboque o interesse pelos fundos com carteira de galpões e outros ativos de logística.
Nesse cenário, muitas redes de varejo passaram a acelerar o investimento no ecommerce e até os pequenos negócios veem o “delivery” como solução para parte da queda de receitas. Com isso a necessidade de empreendimentos logísticos para armazenagem e distribuição tem subido. Para Anita, da Rio Bravo, a perspectiva mais promissora é verdade especialmente para fundos com propriedades logísticas dentro dos grandes centros ou nas proximidades das vias de acesso dos maiores mercados.
“Os fundos que tiverem ativos no ‘last mile’ [centros de distribuição perto das cidades para entregas rápidas] estão se beneficiando do aumento do e-commerce e tendem a manter os rendimentos estáveis ou aumentá-los.” Após a crise, um segmento que até o momento reúne pouquíssimos portfólios, o residencial, pode se tornar uma estrela em ascensão, por conta do déficit habitacional, e que agora ficou viável por causa do nível da taxa de juros, afirma o gestor dos fundos imobiliários da Mauá Capital, Brunno Bagnariolli.
“Para o residencial funcionar a taxa de remuneração do aluguel tem de ser maior do que a taxa de juros da economia e isso no Brasil até pouco tempo não era verdade”, diz. Com a queda da Selic para o menor nível histórico e a perspectiva de se manter em um dígito no longo prazo, o investimento em fundos residenciais, com objetivo de renda, se torna possível. O residencial ainda vai se beneficiar nos próximos anos de outros dois fatores: a pressão demográfica e o descasamento de oferta e procura.
De acordo com o CEO da TG Core, Diego Siqueira, o crescimento natural da população brasileira cria uma necessidade de 1,5 milhão de novas residências por ano. “Mas produzimos em torno de 500 mil a 600 mil por ano, ou seja, temos um déficit habitacional crescente.” A pandemia paralisou os lançamentos imobiliários, além das obras de projetos em andamento.
Essa parada vai acentuar ainda mais o descompasso entre o aumento orgânico da demanda após a crise e a falta de imóveis entregues pelas incorporadoras, apontam os gestores. “O mercado imobiliário está paralisado e, embora a perspectiva seja de que o país vá enfrentar uma recessão fortíssima, a oferta de imóveis em São Paulo, por exemplo, já está baixa”, diz o CEO da RBR, Ricardo Almendra.
“Tanto para residencial, escritórios e galpões hoje tem muito menos oferta do que tinha em 2014 e 2016. E isso tira pressão de queda sobre os preços durante a crise. Nos próximos anos, em meio à retomada, o mercado imobiliário não terá tempo para entregar todos os imóveis que os consumidores vão demandar.”
O residencial também tem a tendência de passar por transformações devido à mudança de hábitos, em que muita gente vai passar mais tempo em casa, seja a trabalho ou devido a uma cautela em relação a aglomerações. Ele conta que a RBR tem um fundo que investe em prédios residenciais em Nova York, nos EUA, em que compra propriedades e reforma. “Em um dos nossos projetos, houve demanda para transformar os depósitos que cada unidade têm em escritórios. Foi a primeira adaptação no meio da pandemia com a ideia que a pessoa possa ter opção de trabalhar em casa, seja de maneira definitiva ou temporária.”
O CEO da Vitacon, Alexandre Frankel, vai além e enxerga um potencial para uma transformação radical no mercado, acelerada pela pandemia. Em sua visão, grande parte das moradias vai pertencer a fundos ou investidores e as pessoas vão consumir a residência como um serviço, de modo semelhante ao que ocorreu após o surgimento dos aplicativos de transporte.
Assim como um número crescente de motoristas passou a deixar os carros na garagem ou nem mesmo ter um veículo, uma “uberização” das residências pode ganhar tração no pós-pandemia. “Esse conceito de moradia como serviço era uma tendência recente e está sendo acelerada pela covid-19, porque as pessoas tenderão a evitar se comprometer com financiamentos longos”, diz.
Nessa nova era de hábitos mais reclusos, os projetos da incorporadora vão acrescentar facilidades para o “home office”. “Todos os nosso prédios já tinham espaços de co-working, mas agora a tendência é ter salas de trabalho individuais em lugar de espaços compartilhados”, diz Frankel. “O mesmo conceito vale para academias, que podem se transformar em estúdios de treinamento individual. Já temos projetos novos saindo com dez estúdios de fitness usados de forma individual.
Além disso, haverá muitas tendências com foco em praticidade, como no caso de delivery, por exemplo, os prédios vão ter aeroporto de ‘drones’, para entregas de compras por veículos não tripulados, e armários de delivery para não ter contato com o entregador.”
A tendência de crescimento do “home office” após a pandemia, porém, não significa um esvaziamento de escritórios, acreditam os gestores. “Acho que será um movimento não tão relevante quanto muita gente pensa a ponto de mudar o mercado”, diz Malheiros, da Habitat. Para Bagnariolli, da Mauá Capital, a taxa natural de absorção da capital paulista compensaria uma eventual migração de escritórios para as residências.
Segundo o especialista, em dois anos a demanda natural da cidade de São Paulo seria capaz de neutralizar o movimento. Nos cálculos dele, a absorção líquida de espaços comerciais na capital paulista tem sido da ordem de 400 mil metros quadrados anuais na média recente. Se um contingente de 20% dos profissionais na cidade de São Paulo adotar o trabalho remoto, haveria uma liberação de cerca de 700 mil m² em escritórios, que pode ser absorvido em menos de dois anos.
Na avaliação de Almendra, da RBR, o segmento de lajes corporativas de padrão triplo “A”, especialmente, mostra-se resiliente à crise e às mudanças comportamentais. Para o gestor, os prédios de padrão mais elevado tendem a manter os inquilinos, em sua maioria, grandes empresas, que vão conseguir passar pela turbulência com danos controlados.
As corporações, no geral, manteriam os espaços atuais, mas com menos pessoas. “Com a pandemia, tem uma tendência de um menor adensamento do escritório, ou seja, haverá menos profissionais nos espaços por metro quadrado do que antes e isso faz com que o efeito do home office seja compensado.
Apreensão com crise política dá lugar a alívio
A apreensão no mercado com uma ampla crise política, que poderia desembocar em mais um impeachment no país, deu lugar a um alívio relativo nos últimos dias, abrindo espaço para a valorização de ativos financeiros. O dólar se afastou da marca de R$ 6 e o Ibovespa voltou para os 82 mil pontos na semana passada. E, agora, sem tanto nervosismo com possíveis sustos vindos de Brasília, a expectativa é que os investidores tenham um pouco mais de espaço para avaliar o quadro econômico e as medidas de combate à pandemia de covid-19.
Na semana passada, a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com governadores e lideranças parlamentares foi um passo importante nessa direção. Mas o que confirmou o respiro foi a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril - citado por Sergio Moro como prova da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal (PF). O vídeo só foi liberado no fim da tarde de sexta-feira.
Antes disso, a ansiedade com o conteúdo levou o dólar a fechar em leve alta de 0,06%, aos R$ 5,5842, enquanto o Ibovespa caiu 1,03%, aos 82.173 pontos. No entanto, minutos após a divulgação, os contratos futuros de dólar e de Ibovespa evidenciaram o alívio dos investidores. O primeiro reverteu a alta e caiu 0,29%, aos R$ 5,5405, enquanto o segundo subiu 1,30%, aos 84.330 pontos, dando uma indicação da possível abertura do mercado hoje.
Para o cientista político e vice-presidente da Arko Advice Consultoria, Cristiano Noronha, só o vídeo não traz nada que incrimine Bolsonaro de “forma clara e irrefutável”. “Eu entendo que ali ele realmente se restringiu à questão da segurança pessoal e da família, e não à investigação criminal contra integrantes de sua família. Não dá para deduzir com a fala dele que estava se referindo a inquéritos sobre o filho”, diz o analista. Desta forma, “se não tem algo que o incrimine, o inquérito [sobre interferência do presidente em investigações da PF] não tem motivo para avançar”.
Isso significa, na avaliação de parcela do mercado, que o risco de impeachment também foi reduzido, sendo possível tirar parte do prêmio dos ativos locais. Exemplo dessa percepção, o principal fundo de índice (ETF) de ações brasileiras negociado em Nova York, o iShares MSCI Brazil (EWZ), ganhou força no “after market” de Wall Street e subiu quase 3%. Sócio da RJ Investimentos, Eduardo Prado ressalta que é preciso analisar o fato de que a bolsa brasileira está com um dos piores desempenhos do mundo desde o início da pandemia e da consequente crise política, havendo pouco espaço para deterioração ainda maior.
No ano, o Ibovespa perde 28,94%. Para o sócio e gestor da Novus Capital, Luiz Eduardo Portella, o vídeo foi mais leve que o reportado nos últimos dias. E, sem provas claras das acusações de Moro, o mercado vai conseguir “tirar o risco de impeachment da frente”. O alívio vem em um momento oportuno, em que Bolsonaro demonstra um tom mais ameno com governadores e líderes parlamentares.
“Espera-se que essa trégua alivie as pautas fiscais expansionistas no Congresso, diminuindo a pressão política sobre o ministro Paulo Guedes e, principalmente, gere uma política de combate à covid-19 minimamente coordenada entre os entes federativos”, avaliam os analistas da BlueLine em relatório. Agora, o mercado vai ter mais espaço para olhar com mais atenção questões econômicas e de enfrentamento à covid-19, que foram deixadas em segundo plano por causa da crise política - desafios suficientes para manter o mercado em alerta.
Na próxima sexta-feira, por exemplo, será divulgado o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que já trará algum impacto da pandemia sobre a economia. A expectativa no mercado é de uma contração perto de 1,5% ante o fim de 2019. Para o ano completo de 2020, as projeções se aproximam de queda de 10% nas visões mais negativas.
Em um contexto em que algumas regiões do globo já estão implementando a reabertura econômica, a situação brasileira parece bastante crítica, destacam os analistas da BlueLine. Para eles, a trajetória ainda ascendente das estatísticas de contaminação e mortes da covid-19 “indicam um risco muito grande de entrarmos numa estratégia de reabertura econômica precipitada e contraproducente”.
FOLHA
Real ganha status de moeda tóxica com aversão a riscos fiscal e político
A desvalorização de quase 30% do real em relação ao dólar desde o início do ano reflete uma aversão à moeda brasileira que não era vista havia quase 20 anos e que já levou à classificação da divisa nacional como um "ativo tóxico" por bancos estrangeiros.
A perda de valor da moeda, que começou no ano passado por causa da queda no diferencial de juros entre o Brasil e outros países, se acelerou nos últimos meses por questões relacionadas ao coronavírus, à piora no ambiente político e à perspectiva de que o país pode ficar para trás na recuperação mundial no pós-pandemia.
O real é a moeda que mais se desvalorizou neste ano entre países emergentes, com uma perda de 29% em relação ao dólar.
Chama a atenção a diferença para países da América Latina, cujo segundo pior resultado é o do peso mexicano (-19%), e de economias como a África do Sul (-22% do rand) e a Rússia (-13% do rublo).
O risco Brasil medido pelo CDS (Credit Default Swap) subiu 220% em 2020. Na média dos países emergentes, a alta foi de 77%.
Na semana passada, o real voltou a se valorizar (fechou a sexta-feira, 22, vendido a R$ 5,58), mas praticamente sem alterar a distância em relação a outras moedas emergentes.
O banco Credit Suisse divulgou relatório em que classificou a moeda brasileira como "tóxica" e na lista das divisas de países fiscal ou politicamente expostos. A instituição projeta uma cotação de R$ 6,20 até o fim do ano.
Entre as instituições consultadas pelo Banco Central na pesquisa Focus, a mediana das projeções para o dólar no final do ano está em R$ 5,30, com algumas casas projetando uma cotação de até R$ 6,30.
Otávio Aidar, estrategista-chefe e gestor de moedas da Infinity Asset, afirma que a valorização recente no preço das moedas dos países emergentes corrige alguns exageros de mercado e que o real pode voltar a se alinhar com as moedas de outros pares.
Para ele, uma desvalorização do real na casa de 30%, enquanto outras moedas emergentes perderam cerca de 20% do valor, reflete uma percepção de risco descolada dos fundamentos econômicos do país. Um câmbio de equilíbrio, segundo ele, pode estar próximo de R$ 4,00 ou R$ 5,00, a depender do cenário externo, mas não há justificativa para caminhar para um patamar acima de R$ 6,00.
Para que haja uma melhora na visão sobre o Brasil, no entanto, é necessário sinalizar que o aumento de gastos por causa da pandemia vai ficar restrito a esse período e, adicionalmente, ter um plano para organizar a economia na saída da crise.
"O investidor precisava olhar para o Brasil e ver algo mais calmo, menos turvo, ter um pouco mais de clareza sobre o ambiente de investimento, diminuir um pouco essas incertezas."
Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, afirma que sua projeção para o câmbio daqui a 12 meses, considerando os fundamentos da economia brasileira, é de R$ 4,70. Uma apreciação depende, no entanto, de uma significativa redução na aversão ao risco gerada pela pandemia, o que afetaria todas as moedas de países emergentes, e também de uma melhora nas questões políticas e fiscais do próprio país.
"Não estou dizendo para ninguém vender dólar. O câmbio é muito sensível. Ruídos a curto prazo tendem a fazer com que ele se deprecie ou aprecie. Se tiver uma piora de governabilidade, podemos ter um ruído", afirma Sanchez.
"Um segundo fator é não piorar mais do que os outros [países emergentes] e ter uma agenda reformista que volte à tona assim que passar, ou pelo menos reduzir, essa pauta da Covid-19", afirma.
De acordo com o economista-chefe da Ativa, embora a diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos esteja em apenas 2,75 pontos percentuais, considerando a taxa básica de curto prazo, os títulos brasileiros são atrativos quando se observa um diferencial de quase 8 pontos em investimentos de prazos mais longos.
Desde agosto do ano passado,o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 3,5 pontos percentuais, de 6,5% para 3% ao ano.
Para Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo Investimentos, os ruídos políticos, que se refletem na falta de um alinhamento para enfrentar a pandemia e de um plano econômico para a saída de crise, afastam o investidor estrangeiro, mesmo com alguns ativos nacionais extremamente desvalorizados.
Segundo Franchini, esse investidor prefere voltar ao país quando já houver algum sinal de recuperação nos preços, mesmo com o risco de perder os ganhos iniciais, a apostar em uma alta que talvez não se concretize.
Ele cita, por exemplo, a desvalorização em dólares da Bolsa de Valores brasileira, de quase 50%, que não atrairá o capital estrangeiro se não houver perspectiva de valorização dos papéis que compense o risco.
"Não vai ter entrada de dólar em um país que tem confusão política e um juro baixo que vai demorar para ir embora. Se o Brasil quiser ser de novo atrativo, terá de resolver internamente essas questões políticas. Por mais que o país esteja barato, o prêmio não vale a pena por causa desses riscos. Não adianta dizer para o estrangeiro que 'agora vai'", afirma Franchini.
ESTADÃO
Postura frente à pandemia piora imagem do Brasil no exterior e afasta investidores
"Estes são os túmulos de abril. Vejo um funeral a cada dez minutos, e este é só o começo.” A descrição de um cemitério em São Paulo com os caixões de vítimas do coronavírus feita na semana passada foi apenas uma dentre as várias vezes em que repórteres das maiores emissoras de TV dos Estados Unidos abordaram a gravidade da pandemia no Brasil. A imagem de caixões e de hospitais se tornou corriqueira na imprensa estrangeira depois que o País rompeu a marca de mais de mil mortes diárias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, puxada por Brasil, a América do Sul é agora o novo epicentro da covid-19.
Analistas internacionais definem o Brasil como uma nação governada por um presidente populista que dá respostas contraditórias à pandemia. Os efeitos concretos da percepção no exterior de que o País ruma para um precipício – ao viver uma tempestade perfeita com crises simultâneas na saúde, na política e na economia – já aparecem nos números e na postura distante que outras nações têm preferido tomar do Brasil.
Desde o início do ano, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, com queda de 45% ante o dólar. A despeito das intervenções diárias do Banco Central, a cotação da moeda americana encostou nos R$ 6. No mesmo período, o CDS (Credit Default Swap), indicador que sinaliza o nível de risco país, cresceu mais de 250%.
Os números superlativos se repetem na debandada de investimentos estrangeiros. Segundo o último relatório do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), que reúne bancos de investimento, fundos e bancos centrais em 70 países, o Brasil registrou em março a maior fuga de capital em um mês desde 1995 e é o país que mais merece atenção, por causa da rápida deterioração do cenário. A quantia perdida só não foi maior do que a registrada pela Índia.
“Investidores gostariam de ver o governo no comando da situação. Temos visto o confronto entre o Executivo (federal) e governadores, assim como discussões com o Congresso sobre os estímulos, além de mudanças ministeriais que aumentam as dúvidas sobre a capacidade do governo de continuar com reformas estruturais”, diz Martin Castellano, chefe da seção de América Latina do IFF.
Procurado para comentar os efeitos da percepção negativa do País no exterior, o Ministério da Economia não se pronunciou.
Para o economista-chefe do IFF, Robin Brooks, o coronavírus se tornou uma “crise de confiança” para o Brasil. Colocar dinheiro no País agora deve ser uma tarefa para “especialistas, loucos, oportunistas de longo prazo e aqueles sem outras opções”, resumiu o economista Armando Castelar, do Ibre/FGV, em relatório da Gavekal Research, consultoria de investimentos internacional. De acordo com o economista, seria como “correr para um prédio em chamas”.
Itaú vai dar crédito imobiliário atrelado à poupança a grupo seleto de construtoras
O Itaú Unibanco estrutura em conjunto com algumas construtoras uma nova linha de crédito imobiliário com taxa de juros atrelada à caderneta de poupança, algo inédito no País, apurou o Estadão/Broadcast. O trabalho envolve apenas algumas construtoras do primeiro escalão, como Cyrela, Eztec e Trisul e está sendo tocado pelo braço de atacado da instituição, o Itaú BBA.
A primeira fase deve envolver em torno de dez projetos. Ao todo, estima-se que o banco vai liberar cerca de R$ 1 bilhão à nova linha, segundo fontes, na condição de anonimato. O anúncio da modalidade está previsto para ocorrer nos próximos 15 dias. Em um primeiro momento, os financiamentos serão destinados a construtoras e incorporadoras, o chamado ‘plano empresário’.
A modalidade vai ao encontro de um pleito da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Em um plano para o pós-crise, a entidade, que representa as maiores incorporadoras do País, levou recentemente ao Banco Central (BC) a proposta de criação de uma nova linha de financiamento para a compra de imóveis, com a taxa de juros atrelada à remuneração da caderneta de poupança em uma tentativa de reduzir as taxas de juros do mercado imobiliário.
No caso do Itaú, maior banco da América Latina, o foco, ao menos por ora, são as construtoras. A torcida do setor, entretanto, é de que a nova modalidade seja oferecida futuramente também para as pessoas físicas, dando uma nova injeção de ânimo às vendas passada a crise gerada pelo covid-19.
Batizada de Poupança Mais, a nova linha oferecerá uma taxa de juros composta pela remuneração da poupança mais um spread, a diferença entre o custo da captação e o valor emprestado, que deve ser em torno de 3% ao ano, calculam fontes. Atualmente, a poupança rende 2,1% ao ano. Portanto, a taxa final da nova modalidade ficaria em algo como 5,1% ao ano.
“Essa taxa será bem menor do que muitas linhas que vínhamos tomando até o fim do ano passado, de 8% ao ano”, afirma o executivo de uma construtora, que preferiu falar sob anonimato porque os contratos ainda não foram fechados.
Pelas regras do Banco Central, a caderneta rende 70% da taxa básica da economia, a Selic, mais Taxa Referencial (TR), quando a Selic está abaixo de 8,5%. Hoje, isso equivale aos 2,1% citados acima.
Bancos privados vão atrás da Caixa
A nova linha amplia o leque de opções do crédito imobiliário, que cresceu nos últimos anos no Brasil. O movimento foi capitaneado pela Caixa Econômica Federal, que traçou uma ofensiva para retomar a liderança no setor, do qual detinha 69,1% ao fim de março. Além de reforçar a oferta de empréstimos, criou duas novas modalidades, uma com juros atrelados ao índice de inflação (IPCA) e outra com taxas prefixadas.
O financiamento indexado ao IPCA da Caixa teria servido, inclusive, de inspiração para o desenho da linha atrelada à poupança em estudo pelo Itaú, conforme apurou o Estadão/Broadcast. No primeiro trimestre, a carteira de crédito imobiliário voltada à pessoa jurídica do maior banco da América Latina era de R$ 4,6 bilhões, 5,2% superior à registrada nos três meses anteriores. Em um ano, porém, o saldo do Itaú encolheu quase 20%.
Além disso, a nova modalidade pode ajudar o setor de construção a ganhar mais tração passada a pandemia. As medidas de isolamento social, necessárias para conter a propagação da doença no Brasil, já impactam os números dos segmento, que passou colocou suas projeções para 2020 em revisão.
O primeiro trimestre, porém, ainda conseguiu passar praticamente ileso. De janeiro a março, os empréstimos destinados à aquisição e construção de imóveis avançaram 29,8% ante um ano, atingindo R$ 20,25 bilhões, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
Procurado, o Itaú não comentou. As construtoras mencionadas também não se manifestaram.
‘Será necessário um pacote fiscal para economia voltar a crescer’
Além do aumento dos gastos públicos já anunciados, o governo terá de fazer um pacote fiscal para estimular a economia no pós-pandemia, segundo o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros. Se agora há certa condescendência dos investidores com a alta da dívida brasileira, dado que o movimento é global, o mesmo não ocorrerá quando esse pacote sair. Aí, a solução será elevar impostos para mudar a trajetória da dívida, diz. A seguir, trechos da entrevista.
Que impacto o aumento da dívida terá no crescimento do País?
A questão do endividamento continua sendo um problema. A razão é simples: o Brasil tem pouca poupança. Nós precisamos da poupança externa para investir. Lá fora, um dos itens que os investidores olham é a tendência da dívida. Portanto, vamos ter de tratar, um pouco mais à frente, da estabilização da dívida e de transformá-la em uma curva descendente. Não precisa ser uma tendência muito forte. Até porque tem uma mudança hoje no Brasil que afeta muito a dívida pública, que é a taxa de juros real. Quanto menor o juro real, maior pode ser a relação entre dívida e PIB. Enquanto prevalecer essa política monetária (de juro baixo), temos um tempo para tratar a questão da dívida pública.
Os investidores serão mais condescendentes com dívidas elevadas, dado que elas estão aumentando globalmente?
Essa postura mais condescendente começará a mudar no ano que vem. O protocolo para lidar com a crise, tanto no Brasil como fora, é que, passada a epidemia, as economias estarão tão frágeis que será necessário outro pacote fiscal. Um pacote para colocar a economia na rota de crescimento. Todos os países farão isso. Os EUA aprovaram um pacote de US$ 3 trilhões para ser usado lá na frente. Teremos de fazer o mesmo. Se essa primeira rodada de déficit já mexe com a dívida, vamos ter outra rodada. Menor que essa, mas a dívida pode realmente ir para 100% do PIB. Essa segunda rodada não terá a condescendência que teve a primeira. O que vamos ter de fazer é um aumento de impostos para lidar com a curva da dívida.
Quais impostos será possível aumentar?
Esse aumento de imposto certamente vai ter uma característica diferente da nossa estrutura tributária. Deverá ser sobre ricos. A primeira coisa que vai sair é tributação de dividendo pago pelas empresas. Uma tributação maior para bancos também vai ser necessária. Talvez, finalmente, algum tipo de contribuição sobre movimentação financeira, mas com um limite mínimo para movimentações sobre a qual o imposto vai rescindir.
Alguns economistas falam de aumento no Imposto de Renda...
Já é alto no Brasil e pegaria muito a classe média. Dessa vez, tem de ser no capital. Até porque o argumento político é que boa parte do déficit foi feito para ajudar empresas, o que é verdade. Mas esse aumento tributário deve ser apenas por um período para mudar a tendência da curva da dívida.
Com o aumento da dívida, será possível manter a taxa de juros no atual patamar?
Como vamos ter recessão neste ano e um crescimento muito baixo ano que vem, dá para manter baixa. Vai subir um pouco, mas nada comparado ao que já tivemos.
Um ajuste fiscal também será necessário, no futuro, para mudar a trajetória da dívida?
Não tem como fazer isso. Como você inverte a curva? Com crescimento econômico. Não tem outro jeito.
NOSSA MISSÃO
Representar e promover o desenvolvimento da construção civil do Rio Grande do Norte com sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental
POLÍTICA DA QUALIDADE
O SINDUSCON/RN tem o compromisso com a satisfação do cliente - a comunidade da construção civil do Rio Grande do Norte - representada por seus associados - priorizando a transparência na sua relação com a sociedade, atendimento aos requisitos, a responsabilidade socioeconômica, a preservação do meio ambiente e a melhoria contínua.