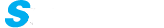-
FILIAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
-
PESQUISAS E ÍNDICES
-
PROJETOS
-
JURÍDICO
-
BANCO DE CURRÍCULOS REFERENCIADO
-
EVENTOS
-
DOWNLOADS
-
LINKS
Segunda-feira
Inflação deve se espalhar mais em 2021, prevê Braz
Muito alta em 2020, a inflação de alimentos deve dar algum alívio já no primeiro trimestre de 2021, enquanto outros segmentos, como serviços, bens duráveis e preços administrados ganhariam destaque ao longo do ano.
Se esse “repasse” da inflação a outros grupos se intensificar e persistir, porém, pode gerar pressão por uma atuação mais imediata da política monetária, avaliou André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), ao participar da Live do Valor, na semana passada.
O Banco Central deve estar atento ao bom comportamento dos preços logo no início do primeiro trimestre de 2021, segundo Braz. A expectativa para o ano é que haja disseminação de aumentos de preços. É provável que a inflação ao produtor, que viu alta de mais de 60% nas matérias-primas brutas em 2020, imponha desafios à cadeia produtiva justo em um momento de retomada da economia, o que pode incentivar esse espalhamento. “Já percebemos aceleração em bens duráveis, um segmento em que os preços ficaram mais parados, sobretudo no primeiro semestre”, diz o economista.
Para Braz, se incertezas importantes forem suavizadas, como o recrudescimento da pandemia, a partir da vacina, e a trajetória da dívida pública brasileira, com sinalizações críveis de controle fiscal, seria possível encerrar 2021 com uma inflação ao redor de 3,5%, abaixo do centro da meta para o ano, de 3,75%.
Por ora, Braz aposta nesse cenário, mas, se nada for feito, a inflação pode chegar a 4,5%, afirma. “O ano que vem é de retomada do crescimento. Isso deve gerar um pouco mais de emprego, consumo e um desafio maior para a inflação. Se a gente não conseguir estabilizar o câmbio, trabalhando bem essas incertezas, isso pode continuar gerando pressão de custo para segmentos importantes da atividade que, gradualmente, vão se sentir à vontade, ou tão pressionados, que não vão encontrar outra solução que não seja repassar aos preços finais. Aí, vamos começar a ver persistência e espalhamento maior da pressão inflacionária. Vai ser a luz amarela.”
Braz lembra que, no começo da pandemia, a perspectiva era que a crise teria caráter desinflacionário. O que subia naquele momento eram os preços dos alimentos, conforme as famílias antecipavam compras para estocar produtos. Ao longo do ano, porém, outros fatores foram pesando, como problemas de safra e a intensa desvalorização do real, impulsionada pela incertezas sanitária e fiscal.
O câmbio desvalorizado tem duplo efeito: torna exportações brasileiras mais competitivas, desviando produtos do mercado doméstico, e deixa matérias-primas e insumos mais caros para a produção final. Foi uma “tempestade perfeita”, diz o economista. Parte do resultado é que as ceias de fim de ano em 2020 devem ficar de 15% a 20% mais caras do que no ano passado, segundo Braz.
Para 2021, não é esperada uma alta nos preços das commodities como neste ano, até porque não está no radar outra desvalorização cambial tão intensa, afirma Braz. Na reta final de 2020, porém, soja e milho seguem em alta na cotação em dólar, o que pressiona o custo de criação dos animais, observa. "A alimentação não vai sumir do cenário de inflação em 2021. Pode ser menor do que neste ano, mas ela vai continuar influenciando.”
FOLHA
Em ano de pandemia, BC entrega números inéditos puxados por medidas artificiais
No ano em que uma pandemia devastou economias e mudou a dinâmica de consumo da população mundial, o Banco Central brasileiro entregou o que sempre perseguiu: inflação na meta, taxa de juros no menor patamar da história, mercado de crédito em pleno crescimento e inadimplência em seu menor nível.
Seria o cenário perfeito, não fossem os efeitos disso daqui para frente. Parte dos números extraordinários apresentados pela autoridade monetária foram fruto da baixa atividade econômica e de medidas emergenciais do governo de combate à pandemia da Covid-19.
“O governo intuiu que uma taxa de juros baixa iria estimular os investimentos dos empresários em suas próprias empresas na medida que eles não teriam opções melhores para empregar seu capital. Além disso o grande temor no começo deste ano era com a deflação”, afirma o economista Paulo Feldmann, professor da USP (Universidade de São Paulo).
Ao começar 2021 sem o decreto de calamidade que permitiu que o governo gastasse além do teto fixado em lei, editado por causa da crise sanitária, o BC terá de lidar com provável efeito rebote na economia.
Na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), o BC decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) a 2% ao ano, no menor nível da história.
Ao mesmo tempo, a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado o índice oficial, encerrou novembro acumulada em 4,31% e deve fechar o ano perto disso, dentro da meta fixada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), de 4%, mas com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo.
Os números foram alcançados sob o custo de uma atividade econômica extremamente deprimida pela pandemia da Covid-19. Antes da crise, em fevereiro, a autoridade monetária havia indicado que a taxa ficaria em 4,25% ao ano nas reuniões seguintes, depois de cinco reduções seguidas. Com a deterioração do cenário econômico e com a necessidade de estímulo monetário (juros mais baixos para incentivar o consumo), foi retomado o ciclo de queda da Selic.
A crise também teve efeito deflacionário, especialmente nos meses mais agudos –em abril e maio, o IPCA foi negativo, ou seja, os preços caíram. A necessidade de isolamento social fez com que as pessoas consumissem menos, o que derrubou o índice. Isso também permitiu que o corte de juros.
Nos últimos meses, no entanto, a inflação voltou a subir, pressionada por alimentos e combustíveis. Segundo o BC, o auxílio emergencial, aliado ao aumento do consumo de comida dentro de casa, gerou parte dessa pressão. A autarquia, no entanto, avalia que o choque é temporário e deve desacelerar no próximo ano.
“O que vemos hoje no Brasil são dados de países ricos, da zona do euro, mas em um país empobrecido. É preciso pensar em soluções para aumentar a taxa de crescimento da atividade. A discussão de juros reais negativos, por exemplo, já vemos há muito tempo em economias desenvolvidas e agora começou a ser falado aqui”, afirma Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust Investimentos.
O analista concorda que a inflação observada nos últimos meses é temporária. “A inflação estrutural no Brasil está mais baixa, isso é bem claro. A partir do início do ano não teremos aceleração de alimentos, com o fim do auxílio, e teremos menor pressão do câmbio”, diz.
Para ele, o cenário traçado para o próximo ano não será tão ruim. “Temos um ambiente externo favorável às economias emergentes e é possível que tenhamos fluxo de investimentos.”
Já Paulo Feldmann, da USP, discorda que os preços vão desacelerar. “Acredito que o maior problema do país hoje é a inflação. Alguns índices, como os da FGV, em que alimentos têm maior peso, tiveram alta perto de 20%. É isso que pesa no bolso do brasileiro”, opina.
O mercado vem aumentando as estimativas para tanto para a inflação quanto para a taxa básica de juros de 2021, que agora estão em 3,37% e 3% ao ano, respectivamente, segundo o boletim Focus do BC. Há um mês, as previsões eram de 3,22% (inflação) e 2,75% ao ano (Selic).
A autoridade monetária anunciou, na última reunião do Copom, em 9 de dezembro, que deve abandonar em breve o compromisso de não subir juros, instrumento adicional de política monetária chamado de forward guidence, ou prescrição futura.
Além disso, embora o câmbio tenha dado trégua no último mês, a previsão do mercado é que o dólar ainda fique acima dos R$ 5 em 2021. De acordo com a última previsão da autoridade monetária, a atividade econômica deve crescer 3,8%, mas ainda não voltará aos níveis anteriores à crise.
O chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV/IBRE e ex-diretor do BC, José Júlio Senna, diz acreditar que a segunda onda de contaminações pode atrasar a recuperação da economia. “Essa é a principal geração de incertezas hoje, é paralisante. Com isso, o mercado de trabalho é muito afetado”, diz.
O economista-chefe do banco Fator José Francisco de Lima Gonçalves não descarta recessão no primeiro trimestre do próximo ano. “A percepção é que a virada do ano vai ser ruim por causa do fim dos estímulos, podemos ter contração no primeiro trimestre, depende do cenário de pandemia, que inclui vacinação. O viés de atividade é para baixo”, diz.
O BC projeta que o mercado de crédito fechará este ano com crescimento acima de 15%, puxado pelas linhas emergenciais do governo para micro e pequenas empresas, como Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), e estima crescimento de 7,8% para o próximo ano.
“Com baixa atividade, é difícil ver o mercado de crédito se expandindo”, afirma Senna.
O auxílio emergencial e o adiamento das parcelas de empréstimos contraídos antes da pandemia, concedido pelos maiores bancos, evitaram os calotes e a inadimplência chegou ao seu menor nível, com 2,4% em novembro, último dado divulgado.
A autarquia, porém, estima que esse índice pode chegar a 4% no primeiro trimestre do próximo ano, próximo ao pico, observado em maio de 2017, de 4,04%. Com o fim do auxílio e o retorno das parcelas, além da desaceleração no mercado de trabalho, os consumidores podem ter dificuldades para honrar seus compromissos.
A autoridade monetária também terá que traçar planos para lidar com o rombo nas contas públicas e com a dívida, que cresceu muito em decorrência dos gastos com a pandemia. Embora a autarquia não seja responsável pela política fiscal do país, o desequilíbrio traz danos econômicos e afeta a política monetária.
Para o ex-diretor do BC, o maior desafio para o próximo ano é lidar com o quadro fiscal. “Considero importante a manutenção do teto de gastos, mas isso não é tudo. O problema é que esta é a única âncora fiscal. Qualquer passo em falso é fatal, como, por exemplo, sinais concretos de que as reformas não serão feitas”, afirma.
Brasil pode seguir país desenvolvido e ter nova década de juros baixos
O Brasil registrou queda inédita na taxa básica de juros ao longo da década de 2011 a 2020, com uma taxa Selic que passou de 10,75% para 2% ao ano neste período.
Apesar da expectativa de que ela volte a subir, passada a pandemia, o país pode fechar a próxima década com uma taxa média inferior à verificada nos dez anos que se encerram daqui a poucos dias.
O Banco Central calcula que a taxa de juro real de equilíbrio no país, aquela que permitiria um crescimento não inflacionário, seja de 3% ao ano. Considerando a meta de inflação dos próximos três anos, isso equivale a uma taxa básica em torno de 6,5% ao ano.
Na década 2001-2010, a taxa média praticada pelo BC foi de 15,6% ao ano. No período 2011-2020, recuou para 9,3% ao ano, patamar ainda elevado para os padrões internacionais e influenciado pelas taxas acima de 10% em boa parte do período 2011-2016.
Em relação aos juros bancários, a taxa média passou de 42% no final de 2000 para 35% em 2010 e 27% em 2020.
A queda dos juros nos últimos anos não foi um fenômeno apenas brasileiro. Pelo contrário, foi uma tendência mundial que demorou a se materializar por aqui.
Países emergentes já praticavam taxas abaixo de 5% em 2011. Na época, economias desenvolvidas já tinham juro próximo de zero, no contexto de incertezas trazidas pelas crises de 2008 nos EUA e da Europa no começo da década.
No mundo desenvolvido, a expectativa é que os juros continuem abaixo da inflação (juro real negativo) pelos próximos anos, uma vez que as taxas baixas não têm sido suficientes para estimular essas economias e trazer riscos inflacionários.
A redução dos juros no mundo desenvolvido é um fenômeno verificado desde a década de 1980 e é alvo de estudo de economistas como Larry Summers, ex-secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que falava na “estagnação secular”, e Ben Bernanke, ex-presidente do banco central dos EUA, o Federal Reserve.
O trabalho sobre o tema desenvolvido pelo ex-diretor do BC brasileiro Carlos Viana de Carvalho e pela diretora do BC Fernanda Nechio também é citado como referência.
Em resumo, esses estudos tratam de uma queda estrutural da taxa de juros ligada a uma situação de excesso de poupança em relação às necessidades de investimentos.
O envelhecimento da população, por exemplo, faz com que as pessoas poupem mais para sustentar seus gastos por um período mais longo, principalmente após a aposentadoria.
A piora na distribuição de renda nos países desenvolvidos também acaba por concentrar recursos nas camadas de renda mais alta, que tendem a consumir menos e poupar mais, proporcionalmente, em relação aos mais pobres.
Além disso, a evolução tecnológica e o direcionamento de parcela cada vez maior da renda para serviços fazem com que os investimentos sejam menos intensivos em capital.
“Temos razões para acreditar que, ao longo dos próximos anos, vá se manter essa situação de juros estruturalmente baixos. Há um horizonte de três, quatro ou cinco anos em que não há expectativa de alta nos EUA”, afirma o diretor do Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall.
“No caso da Europa, que não conseguiu sair daquele juro negativo de antes da crise e onde a inflação está flertando com zero, menos ainda.”
Ele lembra que o Federal Reserve, o banco central dos EUA, já indicou que não deve subir os juros antes de 2023, período em que a taxa ficaria próxima de zero. E que alguns economistas avaliam que essa situação possa perdurar até a metade da década.
No Brasil, a estimativa de mercado é que a Selic volte a subir no próximo ano ou em 2022 e che-gue a 6% em 2023. “Se a gente for na linha de mais consolidação fiscal e reformas estruturais, esse juro [no Brasil] pode ser mais baixo”, afirma Kawall.
André Loes, sócio e economista da Kairós Capital e ex-presidente do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), afirma que com a inflação perto da meta o país pode ter uma Selic entre 5% e 7% ao ano, baixa para padrões brasileiros.
Loes cita quatro fatores que foram determinantes para a queda dos juros no Brasil, mesmo antes da pandemia, além do ambiente externo favorável.
Segundo ele, houve um amadurecimento do regime de metas de inflação após mais de 20 anos, que ajudou a colocar as expectativas próximas às metas. Ele cita ainda a forte recessão de 2015 e 2016, que fez com que os preços de serviços finalmente cedessem, e um ajuste fiscal gradual a partir daquele ano.
“No nosso caso, o grande risco em relação à dificuldade de manter os juros em níveis mais baixos que os do passado tem a ver com o fiscal, se a gente tiver uma ruptura de regime fiscal e uma sensação de que a trajetória de sustentabilidade de dívida pública está ameaçada”, afirma Loes.
Sobre o forte movimento de migração de investimentos da poupança e fundos que acompanham variação da taxa básica nos últimos anos, ele avalia que ainda há espaço para essa realocação de recursos —para títulos privados ou renda variável—, mesmo com uma Selic em torno de 6% ao ano.
“A gente ainda não chegou nem na metade desse processo de realocação, em um Brasil com taxas de juros permanentemente mais baixa do que a gente se acostumou durante décadas”, afirma Loes.
Paulo Gala, CEO e economista da Fator Administração de Recursos, afirma que os dois fatores que explicam a queda dos juros no Brasil para o nível atual são o desemprego elevado, que fez a inflação despencar, e o nível de reservas que ajudou a evitar uma desvalorização maior do real.
Gala avalia que a taxa básica deve subir para zerar o juro real, que atualmente está negativo, mas afirma ver um nível para a Selic inferior ao consenso de mercado.
Para ele, depois de o Brasil ter juros reais negativos durante a crise gerada pela pandemia, os próximos anos devem ser marcados por um período de juro real zero, considerando inflação na meta, nível ainda elevado de ociosidade da economia e uma política fiscal restritiva.
“Vamos dizer que a inflação convirja para 3,5%, e a Selic chegue a 3,5% daqui um ano e meio. Acima disso eu acho que é muito difícil. Não consigo enxergar o juro real positivo no Brasil dada essa situação calamitosa que a gente vive”, afirma Gala.
NOSSA MISSÃO
Representar e promover o desenvolvimento da construção civil do Rio Grande do Norte com sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental
POLÍTICA DA QUALIDADE
O SINDUSCON/RN tem o compromisso com a satisfação do cliente - a comunidade da construção civil do Rio Grande do Norte - representada por seus associados - priorizando a transparência na sua relação com a sociedade, atendimento aos requisitos, a responsabilidade socioeconômica, a preservação do meio ambiente e a melhoria contínua.